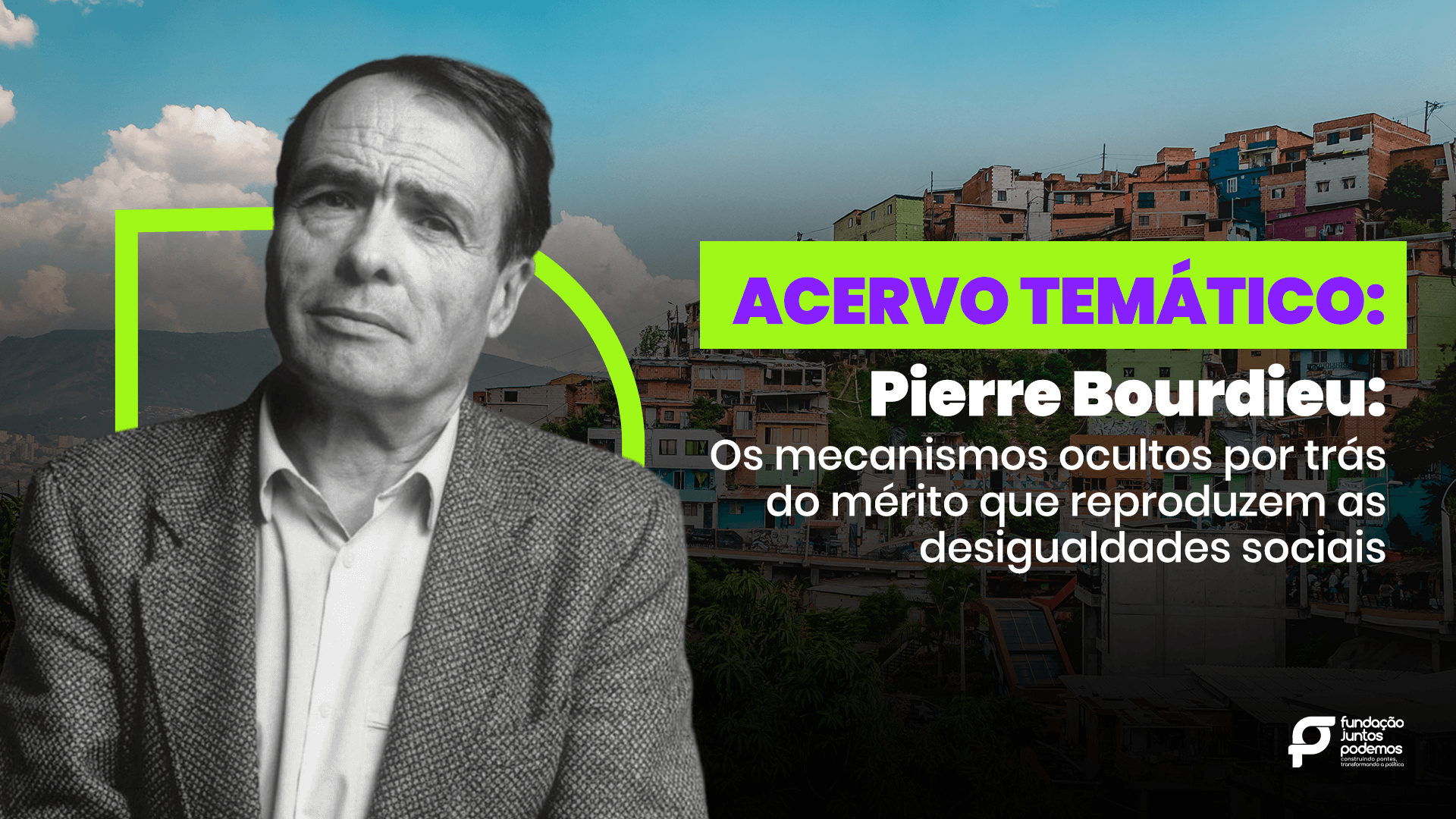Dentre muitos elementos que compuseram o fenômeno nazista na Alemanha de Hitler um foi, sem a menor sombra de dúvida, o seu pilar central: o racismo. A ideologia nazista foi construída sobre os alicerces do ódio a um grupo de pessoas. Foi a partir disso que Hitler, por meio de Goebbels, seu ministro da propaganda, disseminou o elemento unificador entre a população alemã nos seus mais diversos contextos sociais. Os alemães, embevecidos pela superioridade das raças, sentiram-se novamente contemplados, orgulhosos de si e distantes do fantasma da humilhação vivida pela inflação acachapante do pós primeira guerra mundial, da fome, do desemprego e da terrível rendição do país.
Os anos 1920 foram efervescentes em Berlim. A cidade pujante que se acostumou com artistas, cabarets, poetas e uma vida boêmia cheia de transgressões e vivências acerca da sexualidade atraiu toda a atenção do ambiente cultural europeu. Contudo, a crise econômica foi brutal. O marco alemão se desvalorizou e o poder de compra do alemão médio foi caindo abruptamente. A fome, o desemprego e o desespero passaram a ser os principais companheiros do povo alemão. Eis que surgiu um demagogo, populista, prometendo devolver ao povo alemão todo seu brio, todo seu orgulho e dizendo claramente para todos que quisessem ouvir qual era a solução para que a Alemanha fosse reconstruída e voltasse aos seus tempos de glória. Primeiro, era preciso eliminar os marxistas e toda a ameaça comunista, segundo, era preciso varrer a Alemanha e toda a Europa dos gananciosos, pervertidos, degenerados e inferiores judeus. Para os nazistas a Alemanha estava doente e necessitava ser curada. O remédio envolveria expurgos e deportações em massa. Os culpados por toda desgraça e desonra precisavam ser logo punidos. O custo da Primeira Guerra Mundial e o esfacelamento do império da Prússia não era a razão em si, tampouco a crise que o mundo vivia desde a quebra da bolsa de valores de Nova York em 1929. O problema eram os judeus, os comunistas, os homossexuais, os ciganos e os degenerados em geral.
A demagogia nazista criou falsos culpados e foi rápida em prometer aos alemães a devolução de todo seu esplendor roubado por esses grupos inimigos. Na linha mais profunda de Carl Schmitt, o nazismo simplificou a complexidade do contexto histórico na dualidade do amigo versus o inimigo. Assim, em doses homeopáticas de veneno, a propaganda foi conquistando o coração dos alemães. Como já dito uma vez, Hitler não seria absolutamente nada sem Goebbels, pois foi este que encarnou no primeiro a ideologia que conduziria a Alemanha para sua glória no Reich de mil anos. Todavia, o que aconteceu foi a destruição da Alemanha e a divisão de um país por praticamente um século.
Semelhanças mórbidas são meras coincidências com o que estamos vendo nas democracias ocidentais e principalmente nos EUA? Não. A fórmula amigo versus inimigo sempre foi profícua em dividir uma sociedade e engajar um movimento. Nota-se que aqui estamos falando de movimento e não de partido político ou proposta política. Movimentos são fenômenos de massa que são estimulados e tem campo fértil em momentos de crises complexas. Crises que envolvem diversos fatores e não podem ser compreendidas de maneira simplista. Normalmente, a classe política, quando surgem esses momentos de profunda crise, tem dificuldade em dar respostas rápidas para a população descontente, raivosa e irritada com as dificuldades do dia a dia. É nesses momentos que surgem os tribunos, os demagogos, que captam as insatisfações nos ares e fomentam o movimento, simplificando o mundo em doses compreensíveis para qualquer um, apontando, inclusive, os culpados pela crise. Não é nenhuma novidade tudo isso.
Todavia, o que preocupa e causa a necessidade da reflexão é a construção do inimigo com base no agrupamento. Ou seja, quando os inimigos são grupos de pessoas, o racismo e a xenofobia ganham corpo no espírito de uma nação. Foi o racismo que levou mais de seis milhões de judeus para os campos de extermínio; foi o racismo que legitimou décadas de estupros, assassinatos nos processos colonizatórios europeus. A visão racista é a construção do mundo entre nós, superiores, e eles, inferiores, que colocam a convivência em risco.
Nesse sentido, é extremamente preocupante a campanha que levou Trump ao seu segundo mandato nos EUA. Sua promessa de realizar a maior deportação em massa da história do país parece ter convencido muitos americanos de que a violência, a crise envolvendo os empregos, a criminalidade e a inflação têm a ver com o excesso de imigrantes no país. Quando Trump mencionou em sua campanha que imigrantes traziam para os EUA genes de criminosos, praticamente evocou os piores genocídios que já foram feitos na história da humanidade, desde a Alemanha nazista, até Ruanda: a ideia da degeneração insculpida no DNA de uma raça.
De qualquer maneira, diante desse quadro avassaladoramente preocupante, que nos traz novamente o ódio como unificador de uma campanha, a raiva e a vontade de destruir todos os alicerces do estado para implodir todos aqueles que permitiram esse grau de suposta degeneração de uma sociedade, a pergunta que fica é: há espaço para ainda pensarmos num mundo com propostas universais de direitos humanos e endereçadas a todos? Chegamos a um ponto onde a tribalização nas democracias ocidentais, decorrentes de complexos processos, simplesmente tornou impossível o discurso da universalidade e a possibilidade de um cosmopolitismo?
Antes de mais nada, é preciso apontar que a proposta da universalidade dos direitos foi o tom da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que não por outro motivo trouxe a palavra universal em seu título na reconstrução do mundo pós segunda Guerra Mundial. Posteriormente, ao final da Guerra Fria, a reafirmação na crença da universalidade possível foi colocada em pauta na Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos realizada em Viena, na qual surgiu o Plano de Ação de Viena de 1993. O encontro teve massiva adesão, em torno de 171 estados e inúmeras discussões que resultaram na ideia de que a Declaração Universal dos Direitos Humanos era uma meta comum para todos os povos e todas as nações. Além disso, no texto do Plano foi afirmado pelas nações que todos os direitos humanos deveriam ser universais, indivisíveis interdependentes e interrelacionados. Nesse sentido, a comunidade internacional deveria tratar os direitos humanos de forma global, justa e eqüitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase, respeitando as particularidades nacionais e regionais, assim como os diversos contextos históricos, culturais e religiosos. A proposta parecia clara, sua execução não.
No decorrer da década de 1990 e no começo do novo século as demandas dos grupos de vulnerabilidade, minoritários nos contextos em que se inseriam, naturalmente ganharam espaço e foram organizando-se de maneira a reivindicar o seu local de demandas. Esse processo culminou em uma fragmentação de reivindicações que, de certa maneira, afastaram-se da proposta da universalidade, que, acima de tudo, tinha como princípio a contemplação geral de direitos para todos.
O incremento tecnológico provocou uma maior rapidez na comunicação por meio do fenômeno da internet, que permitiu maior agilidade na organização dos grupos de demanda. As redes sociais aceleraram mais ainda todo o processo, por permitir uma agremiação instantânea e uma rápida, porém superficial comunicação.
Paralelamente à complexidade desse processo, crises sobrevieram, como a de 2008, que abalou o sistema financeiro global e a pandemia de Covid-19, que praticamente desestruturou as linhas produtivas e provocou ondas inflacionárias sentidas até o momento.
Todo esse rápido resumo de um complexo desencadeamento de fatos e contextos, acentuou o processo de fragmentação, culminando no que aqui denomino como acentuamento do tribalismo. A universalidade da proposta de 1948/1993 foi colocada, então, em cheque, tamanha toda a crise e desordem causada não somente pelas complicações econômicas, mas também pela perda da referência universal que embasava as propostas centrais dos governos ocidentais.
O tribalismo acentuado, como aqui compreendo, é um fenômeno de retração típico do ser humano quando ele se sente acuado ou em risco por alguma razão. Isto é, quando ele encontra-se em um quadro de insatisfação, não se sente representado ou em um nível profundo de descontentamento, ele busca por suas referências para que consiga novamente sentir-se confortável no mundo. Nesse processo, as buscas por referências podem ser reais, envolvendo tradições culturais ou grupos de pertencimento, ou meramente ilusórias, fincadas num passado imaginário, no qual suas insatisfações não existiam. É algo que corresponde à ideia de que tudo antes era melhor. Ou seja, “no passado os idosos eram respeitados”, “a família era protegida”, “as crianças respeitavam os mais velhos”, e assim por diante, imaginando algo que na realidade nunca existiu da forma imaginada, mas para o qual se quer e se almeja voltar. Algo que pode ser muito bem compreendido no mote, por exemplo, make America great again.
O tribalismo radicalizado, diferente do acentuado, pois mais aprofundado, manifesta-se como racismo, pois eleva um grupo de pessoas a uma posição de superioridade em relação às demais. Os outros, estrangeiros, imigrantes, forasteiros, precisam ser assimilados, ou expelidos, ou simplesmente eliminados para que as feridas sociais sejam curadas e os problemas econômicos resolvidos. Esse tribalismo radicalizado é impeditivo da mera possibilidade de convivência humana em sua complexidade.
Todo ser humano, em seu âmago, tem aspectos tribais. Todos nós temos identidades e relações com nossas origens, cultura, tradições, costumes e vivências. Somos criaturas tribais. É natural pensar que em determinado momento de nossas vidas, as referências da composição de nossa identidade nos trazem conforto e uma sensação de estar em casa.
O nacionalismo é um dos elementos que moldou a tribo da Alemanha nazista. A reação de 1948 foi justamente fincada na contrariedade do ser humano tribalizar-se por meio da sua afirmação nacionalista consequentemente xenofóbica ou racista. A ideia da universalidade e do cosmopolitismo foi a resposta a essa tribalização radical nascida das crises do entreguerras, que levaram pessoas a procurar conforto em algo que as fizesse sentir não somente pertencentes, mas também superiores.
Em meio ao atual momento em que vemos os EUA flertarem com um político antissistema, raivoso, anti-elite, anti-autoridade nos parece que o tribalismo radical encontra novamente espaço para florescer, ao passo que o universalismo e o cosmopolitismo também se tornaram o discurso de uma tribo. Em que sentido? No sentido de que o discurso no início da década de 1990 que pregava o universalismo se enfraqueceu, ficou relegado às universidades e a um grupo de intelectuais que não conseguiram mais convencer todos os demais tribalismos que surgiram ao longo de todo processo de crise, de incremento tecnológico, de alteração no mundo do trabalho, da comunicação em redes sociais que possibilitaram a multifragmentação de grupos reivindicatórios.
O universalismo e o cosmopolitismo tornaram-se, então, o elemento identitário de um grupo frágil (porque o que une esse grupo é justamente essa concepção de mundo praticamente fora de moda) vinculado à academia e ao estado e que ainda embasam as suas políticas. Assim, os outros grupos de descontentes elegeram esse mesmo estado e essa tribo como seus principais inimigos, devendo simplesmente implodir tudo que ali os representa: aquilo que chamam de sistema.
Certamente a saída para a crise do universalismo e da proposta de um mundo fincado na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 não passa pela sua destruição por meio de populistas que conseguiram galvanizar o sentimento de raiva de todas essas pessoas, que se sentiram não contempladas e incomodadas pela tribalização em excesso das demandas. A crise de representação é possivelmente uma das explicações para o florescimento nacionalista como galvanizador dos descontentes. Quando pensamos em make America great again, para qual America na verdade se deseja voltar? Uma América pura sem os imigrantes degenerados ou aquela em que todos tinham empregos e compravam produtos sem dificuldades? Quando essa America existiu (se é que ela existiu em algum dia)? A solução populista finca-se no imaginário da destruição do que aqui hoje está para possibilitar um retorno àquilo que nunca existiu. Independentemente disso tudo, a pergunta que fica no ar é: como voltar a falar de universalismo e conseguir novamente convencer que isso se refere a todos em um contexto como o atual? Como a tribo daqueles que advogam pela universalidade pode voltar a dialogar e não ser mais considerada a inimiga de todos?
A solução para todo esse mundo complexo e difícil parece estar distante das nossas capacidades. O convite ao divã foi feito e muitos já estão nele deitando, mas, talvez, estejamos fadados a uma nova catástrofe, que nos permitirá (ou não) nos reconstruirmos de uma maneira em que voltemos a falar de que a convivência do homem como membro da humanidade é possível. Resta saber se teremos essa chance.