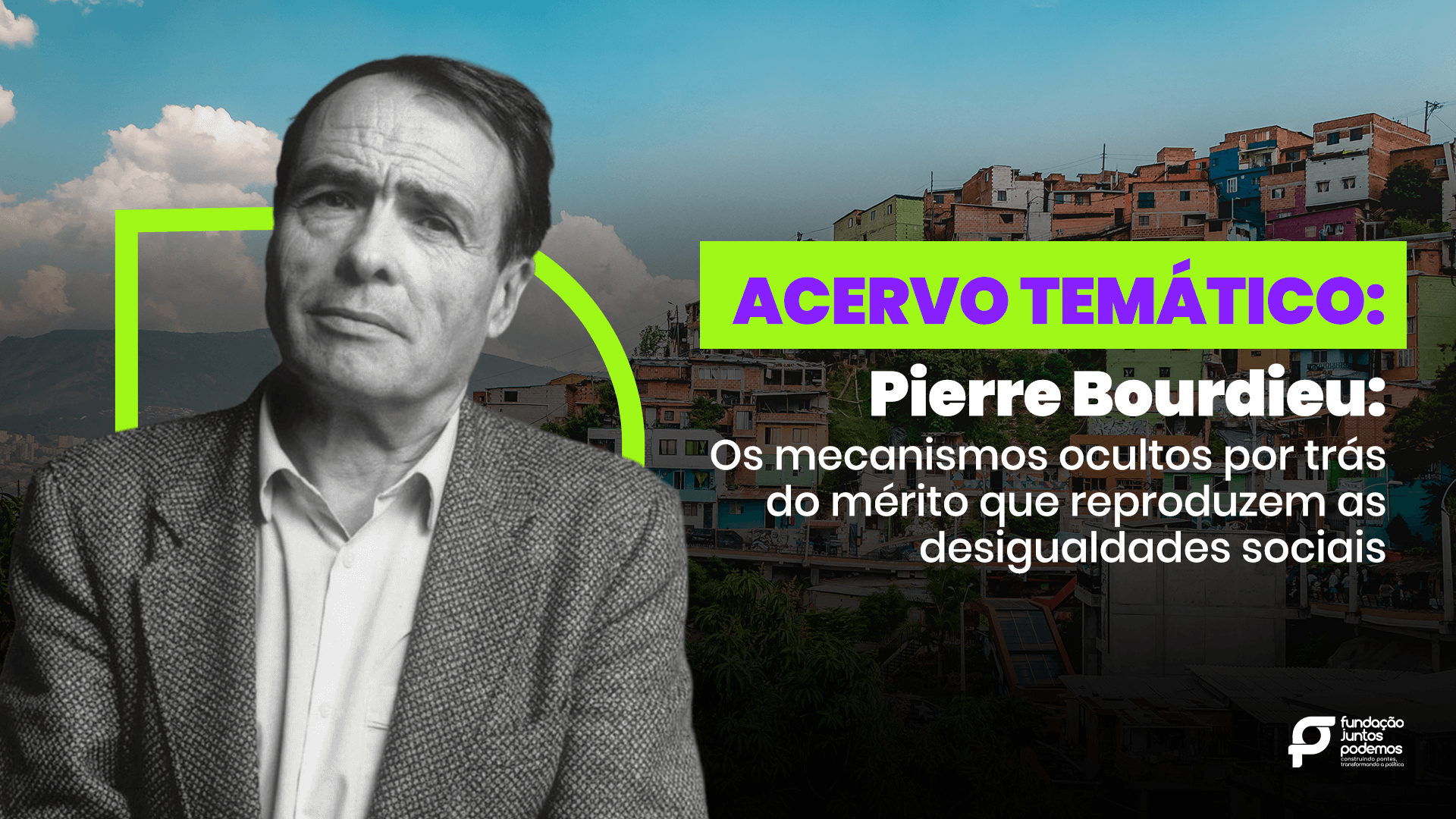O ano de 2024 marca os trinta anos de um dos mais terríveis e pavorosos genocídios do século XX. Em 1994, num período de apenas 100 dias, mais de um milhão de pessoas foram brutalmente assassinadas em Ruanda no conflito entre hutus e tutsis. As consequências do horror permanecem. Famílias foram destruídas, vizinhos assassinaram uns aos outros, crianças foram cruelmente mortas num dos momentos mais tristes da história da humanidade e de um país que permanece lutando para curar suas feridas e reencontrar a paz.
A gênese do genocídio
O genocídio em Ruanda não foi algo pontual ou simplesmente um incidente que saiu do controle nos primeiros meses do ano de 1994. Ele foi, na realidade, o resultado de uma longa gestação de ódio, divisão e dominação colonial.
Durante o período colonial, ou melhor, durante a dominação belga, os povos que habitavam Ruanda eram obrigatoriamente identificados em seus documentos de acordo com a etnia. Ou seja, se um indivíduo fosse hutu, isso seria apontado em sua documentação, da mesma forma se fosse tutsi. A diferenciação étnica obrigatória fazia parte de uma estratégia do colonizador de dividir e favorecer uns em detrimento dos outros, para, com isso, mais eficazmente dominar.
No território de Ruanda, os tutsis eram minoria, mas foram favorecidos em termos administrativos pelos colonizadores, mesmo sendo os hutus maioria. Nesse sentido, estimulados pelo colonizador, os tutsis foram tomados como um grupo étnico dominante e superior, que gozava dos melhores empregos e posições sociais. Desta maneira, o ressentimento e a raiva entre os dois povos foram sendo alimentados.
Durante o processo de independência de Ruanda essa divisão foi profundamente acentuada. Embora a Assembleia Geral da ONU tenha se manifestado em reconhecimento à emancipação e orientado a ser estabelecido no país um governo pluriétnico, a maioria hutu assumiu o controle do recém-nascido país soberano, abolindo a monarquia tutsi, que era manipulada pelos belgas, reais administradores indiretos do país.
O governo republicano de Ruanda foi inicialmente liderado por Kayibanda, do Parmehutu (Partido do Movimento de Emancipação Hutu) com um ethos de revanchismo, como se os tutsis fossem inimigos hereditários e tivessem se tornado um corpo alheio ao país. Com isso, muitos tutsis fugiram para os países vizinhos, principalmente para Uganda.
Em Uganda os tutsis organizaram a RPF (Frente Patriótica Ruandesa), que tinha como objetivo derrubar o governo hutu em Ruanda e permitir que os tutsis voltassem do exílio. Logo nos anos 1960 os tutsis organizaram ataques armados em território ruandês contra representantes do poder hutu. Essas ações provocaram represálias graves contra os tutsis que viviam em Ruanda, como por exemplo o massacre de Gikongoro, em janeiro de 1964, que vitimou de 7 mil a 10 mil pessoas.
Em 5 de julho de 1973 a jovem república ruandesa sofreu um golpe de Estado. O general Juvénal Habyarimana tomou o poder e deu início à segunda república. Inicialmente, diferentemente da primeira, esta parecia querer romper com o passado de conflito. Procurando estabilidade, Habyarimana patrocinou a entrada de um tutsi no governo, André Katabarwa. Assim, iniciou-se um período de relativa calmaria no país, com crescimento econômico, redução da mortalidade infantil e aumento da escolaridade das crianças. Todavia, esse cenário não durou muito tempo.
No final da década de 1980 a fome voltou a aparecer e as desigualdades sociais se acentuaram. Ruanda, em grave crise, viu o FMI impondo uma desvalorização de 57% de sua moeda. O regime de Habyarimana foi se tornando cada vez mais corrupto, levando à escassez das riquezas disponíveis e acirrando a disputa entre as elites dominantes.
Num quadro como esse, no ano de 1990 a RPF invadiu Ruanda e desencadeou a guerra civil entre hutus e tutsis. O sangrento conflito durou até 1993, quando ambos chegaram a um acordo, a partir do qual foi criado um governo de transição composto tanto por hutus, como por tutsis. Juvenal Habyarimana foi escolhido para ser o líder desse governo.
Nos meses que seguiram à formação desse governo, pessoas próximas a Habyarimana prepararam o massacre que estava por vir. Um grupo composto por militares, dirigentes políticos, intelectuais e alguns empresários começou a acreditar que a única forma de evitar uma vitória da RPF seria eliminando massivamente os tutsis. Estimando-se que armas de fogo eram caras demais para serem distribuídas para os civis em grande escala, preconizaram a compra de facões. De acordo com Jacques Sémelin (2009), em 1993 o volume de compra de facões foi completamente anormal. De janeiro de 1993 a março de 1994, 581 mil facões chegaram a Ruanda; o dobro daquilo que normalmente era encomendado a cada ano. Havia um facão para cada três homens em Ruanda. Além disso, observou-se no mesmo período uma compra enorme de munições, como, por exemplo, granadas e de aparelhos de rádio e de pilhas.
No dia 6 de abril de 1994, Juvenal Habyarimana foi assassinado ao ter seu avião abatido quando se aproximava do aeroporto de Kigali. Esse era o fato que os organizadores do massacre esperavam para que pudessem legitimá-lo. Com a morte de Habyarimana, formou-se um governo interino com Théodore Sindikubwabo como presidente e Jean Kambanda como primeiro-ministro. Ambos eram extremistas hutus e advogavam pelo extermínio dos tutsis.
Explorando o momento de choque e perplexidade com a morte do presidente, organizaram rapidamente uma propaganda para que os hutus se defendessem dos futuros ataques tutsis. Os principais meios de comunicação do país começaram a encorajar uma caçada mortal aos tutsis, principalmente a Radio-Télévision des Milles Collines, que os chamava de “baratas que precisavam ser mortas”. Era uma forma de encorajar a população civil a comprar a ideia do massacre. Isto é, estimular o ódio em rede nacional para que as pessoas comuns, de fora da política, executassem o morticínio. Além disso, a própria Igreja anglicana foi conivente com o discurso do novo governo. Instou seus fiéis a cumprirem com aquilo que era também a vontade de Deus; ou seja, cumprirem com os apelos de extermínio.
Toda essa rede de estímulo era propagada pelas instituições locais, como prefeitos, chefes de empresas, militares, milicianos, policiais civis, diretores de escolas primárias, professores, padres, responsáveis de centro de saúde etc. Pessoas que ocupavam cargos que eram interpretados como de confiança pelas pessoas mais simples das localidades mais remotas do país. Nesse sentido, houve uma sistemática orquestrada na transmissão da ordem para matar, sempre alimentada pelas histórias acerca da crueldade da RPF e da brutalidade dos tutsis durante a guerra civil.
Assim, de vizinho a vizinho, amigo a amigo, familiar a familiar, o medo e o desprezo pelos tutsis foi se propagando até o ponto de que a única conclusão possível de se ter era: se a RPF tomar o poder e os tutsis vencerem, cada hutu será morto. Era preciso resistir e, resistir, significava matar. É evidente que em alguns casos muitos outros fatores além da etnia propiciaram a matança, como por exemplo, a possibilidade de se livrar de vizinhos dos quais não se gostava, a inveja ou até mesmo questões pessoais. De qualquer maneira, ser tutsi se tornou uma espécie de legitimação para ser morto em qualquer circunstância, mesmo que no âmago do executor a questão não fosse diretamente relacionada à etnia.
Logo no dia 07 de abril de 1994, Agathe Uwilingiyimana, primeira-ministra de Habyarimana, uma hutu moderada, foi assassinada, assim como também 10 soldados belgas da ONU. As fronteiras foram fechadas e as estradas bloqueadas. Era o início do horror.
Cicatrizes, reconstrução e reconciliação
Em apenas 100 dias foram mais de um milhão de mortos. O número é assustador, não somente pela rapidez com que nele se chegou, mas pela brutalidade que envolveu cada execução. Diferentemente da matança industrializada do nazismo, Ruanda foi o triunfo dos movimentos de massa, onde pessoas comuns, estimuladas por diversos tipos de autoridades, nacionais ou locais, pegaram facões nas mãos e saíram matando outras pessoas, independentemente de gênero, idade ou posição social.
Os relatos dos sobreviventes são chocantes. Cassius Niyonsaba conta que “no dia em que a matança começou em Nyamata, na rua do mercado principal, nós corremos até a igreja da paróquia. Uma grande multidão já tinha se juntado, pois é um costume ruandês se refugiar nas casas de Deus quando começam os massacres (…) os interahamwe chegaram cantando, antes do meio-dia, jogaram granadas, arrancaram as grades e depois se precipitaram na igreja. Começaram a cortar as pessoas com facões e lanças. Usavam folhas de mandioca nos cabelos, gritavam com toda força e riam às gargalhadas. Batiam a esmo, cortavam sem escolher ninguém. Quem não estava mergulhado no próprio sangue, estava no sangue dos outros, era uma enormidade. Começou-se, então, a morrer sem nem mais reclamar. Havia, ao mesmo tempo, uma forte barulheira e um forte silêncio. No meio da tarde, os interahamwe queimaram crianças pequenas diante da porta. Vi com meus olhos elas se retorcerem, queimando ainda vivas, de verdade. Havia um cheiro forte de carne e de querosene”[1].
Relatos como esse foram tristemente comuns. Durante mais de três meses a brutalidade e a crueldade tomaram conta do solo ruandês. Em 07 de julho a RPF declarou um cessar-fogo e os assassinatos estancaram.
Infelizmente o genocídio aconteceu e deixou marcas que até hoje são difíceis de serem superadas. Em novembro de 1994 o Conselho de Segurança da ONU instituiu o Tribunal Penal Internacional para o Ruanda para julgar os responsáveis pelo horror e outras violações do Direito Internacional. O Tribunal foi criado após a inoperância de toda comunidade internacional diante da tragédia anunciada. Como evidenciado, o genocídio não aconteceu do dia para noite.
Apesar disso, o Tribunal Internacional, criado para julgar os acontecimentos num espaço temporal de 1° de janeiro de 1994 a 31 de dezembro de 1994, foi um passo importante para a construção posterior do Tribunal Penal Internacional permanente, em 1998. Sediado em Arusha, na Tanzânia, o Tribunal condenou à prisão perpétua os três principais dirigentes do governo hutu: Theoneste Bagosora, Aloys Ntabakuze e Anatole Nsengiyumva. Diante do movimento de massa que envolveu o massacre, foi um resultado simbólico, mas importante, não somente para perpetuar na memória a tragédia e divulgar as informações e relatos para toda a comunidade internacional. Ou seja, claramente condenar poucas pessoas não seria o adequado, mas o possível diante da impossibilidade de se condenar uma boa parte da população do país inteiro. Todavia, o simbolismo do Tribunal e sua função de arquivo histórico são importantes e não devem jamais ser subestimados. Afinal, é uma espécie de memória do horror para que as próximas gerações possam identificar processos semelhantes e não cometam o mesmo erro.
Paralelamente à resposta da comunidade internacional, internamente Ruanda tem tentado curar suas feridas por meio de uma justiça de transição e conciliação. Tribunais locais foram constituídos para julgar os responsáveis pelas execuções e aqueles que participaram dos assassinatos denominados de gacaca¸numa alusão aos antigos métodos de solução de controvérsias locais comuns em Ruanda. Elas foram adotadas por volta de 2001 com a ideia central de curar as feridas, julgar internamente aqueles que cometeram os assassinatos, torturaram e estupraram pessoas durante o genocídio.
Deste modo, tanto um sistema reparatório doméstico, quanto um Tribunal Internacional foram constituídos para dar resposta ao que aconteceu em Ruanda. Todavia, assim como o Tribunal Penal Internacional não foi isento de críticas, as gacaca também não foram. Alguns autores defendem que elas acabaram por colocar em situação perigosa muitos dos sobreviventes que eram chamados para dar testemunho e que o processo de cura ficou prejudicado pelo fato de muitos dos acusados esconderem a verdade. Além disso, apontaram que a partir delas construiu-se uma narrativa mais simplificadora do contexto do genocídio, numa espécie de transformação maniqueísta de todo complexo processo do genocídio para uma realidade onde apenas os tutsis foram vítimas e somente os hutus culpados.
De qualquer maneira, Phil Clark, professor e pesquisador dos acontecimentos em Ruanda aponta que enormes progressos foram feitos em termos de reconciliação, principalmente se for considerado que milhares de agressores condenados voltaram a viver nas mesmas comunidades onde cometeram os crimes, lado a lado com os sobreviventes do genocídio, de maneira pacífica, estável e produtiva[2]. Além disso, muitos analistas afirmaram que novos ciclos de violência em Ruanda seriam inevitáveis e isso não aconteceu. Ou seja, sinal de que os processos conciliatórios, mesmo que imperfeitos e falhos, tiveram a capacidade de estabilizar o país. Vale ressaltar que clubes de diálogo semanais e associações comunitárias tem realizado um papel fundamental no processo de cura.
Apesar disso tudo, um alerta atualmente se acendeu em Ruanda. As redes sociais e toda sua dinâmica de não regulamentação e espaço propício para discursos de ódio e propagação de mentiras tem voltado a intensificar disputas e narrativas preocupantes. A geração de jovens que não viveu o genocídio de 30 anos atrás tem competido para intensificar situações que voltam a reviver revanchismos, dificultando os esforços de cura e reconciliação.
Paralelamente a isso, os ruandeses que se encontram fora do país, muito mais jovens, que também não viveram o genocídio, têm sido apontados como presas fáceis para discursos de ódio e revanche. A chamada diáspora ruandesa, principalmente nos países vizinhos, preocupa aqueles que trabalham no processo de reconciliação do país. Além disso, existe a preocupação com a FDLR (Forças Democráticas para a Libertação de Ruanda), um grupo rebelde de etnia hutu que, até onde se tem notícia, se organiza no Congo, que troca acusações com Ruanda. Enquanto Ruanda acusa o Congo de tolerar a FDLR, este acusa Ruanda de apoiar movimentos rebeldes contra o governo congolês, como o M23.
Enfim, as lições que podemos tomar dos 30 anos de Ruanda são diversas. Mas, as mais fundamentais são, sem a menor sombra de dúvida, as de que um genocídio é sempre fruto de um longo processo histórico de ódio, racismo, perseguição, crimes e brutalidade; que suas marcas são profundas e suas consequências são capazes de perdurar por gerações. Todo genocídio deixa rancores, divide pessoas, se perpetua na memória e na alma. Os traumas são incontáveis e as vítimas vão muito além daquelas que perderam as suas vidas durante os acontecimentos. Ruanda é importante porque é recente, aconteceu ontem e ainda não acabou. Apesar disso tudo, a atualidade, infelizmente, nos mostra que as pessoas que morreram no horror de Ruanda não foram suficientes para aprendermos a evitar e entender quando um genocídio está em curso. Entender e prestar atenção em Ruanda é fundamental, necessário e urgente.
[1] Depoimento de Cassius Niyonsaba, em Jean Hatzfeld, Dans le nu de la vie. Récits des marais rwandais. Le Seuil, 2000, pp. 15-17.
[2] Disponível em https://www.dw.com/pt-br/ruanda-busca-reconcilia%C3%A7%C3%A3o-30-anos-ap%C3%B3s-genoc%C3%ADdio/a-68733252; último acesso em 16 de abril de 2024.